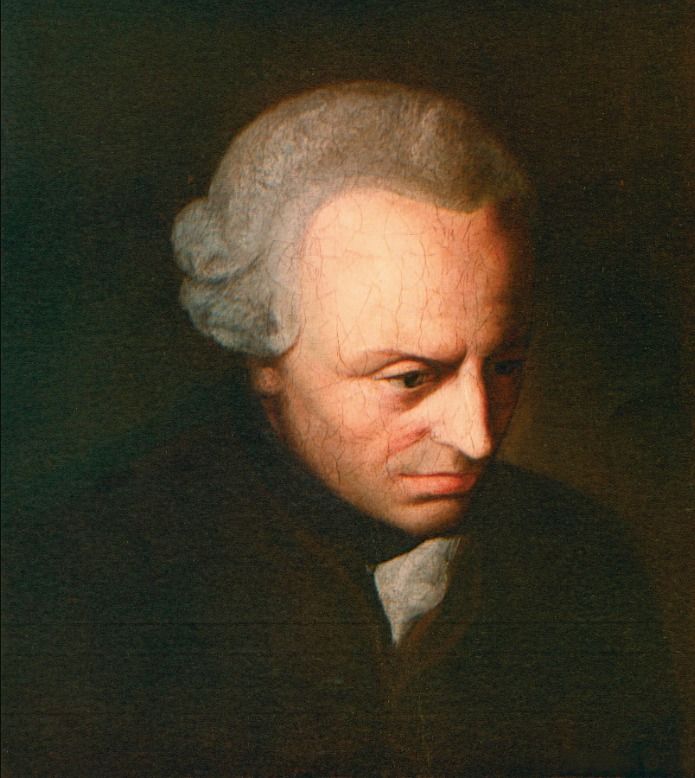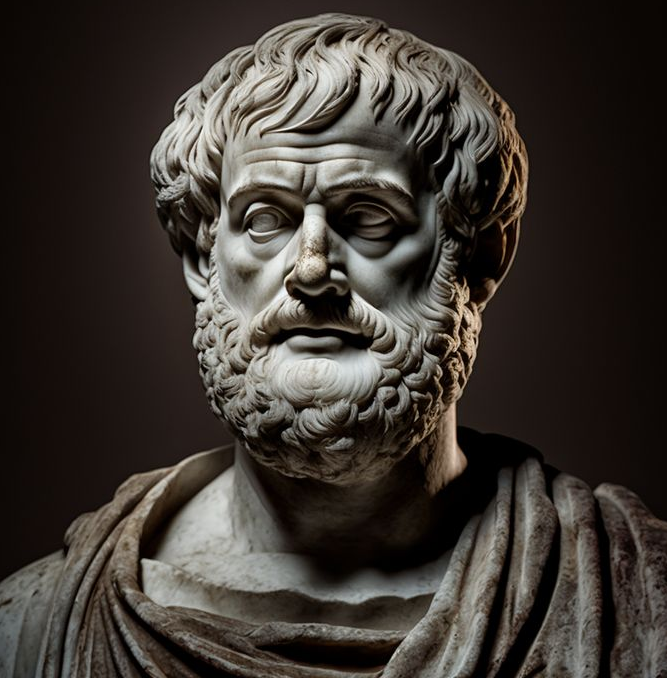Que uma ideia grande, uma vez apreendida e formada, cai como um raio abrasador, se propaga, agita de novo milhares de problemas adormecidos, e incita os espíritos mais dotados duma época à continuação dum trabalho que desconhece a fadiga, é um facto que talvez não tenha sido nunca tão evidente e sensível na história da filosofia como o foi no caso das ideias críticas de Kant”.
- Nicolai Hartmann [1] HARTMAN, Nicolai. A filosofia do idealismo alemão. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1983, p.16.
Este ensaio tem por finalidade:
(1) aperfeiçoar a crítica de Olavo de Carvalho ao conceito de coisa-em-si de Immanuel Kant, partindo do pressuposto de que existir é ser alguma coisa para algum outro e não só ter um quid. Ou seja, a relação está na essência da coisa mesmo que esta permaneça desconhecida e (2) demonstrar, através de um experimento mental, que o conceito de espaço é priori e espaço empírico são a mesma coisa e são imaginativamente indistinguíveis, sendo distinguíveis somente no correlato verbal e, disto, concluir que a coisa-em-si é impossível de ser imaginada, nem mesmo negativamente.
Depois que Immanuel Kant (1724-1804) separou a coisa tal como é percebida pelo sujeito e a coisa na sua pura objetividade, fazendo da coisalidade (Sachheit) realidade, ele acabou definindo “coisa” como aquilo que corresponde a uma sensação ou várias sensações e a razão aquela que as organiza:
“Desde Kant, estamos habituados a separá-lo do conteúdo restante do problema do conhecimento e a considerá-lo como o problema das categorias. O a priori forma uma esfera separada de problemas, e é precisamente neles que os méritos adquiridos pela lógica para o problema do conhecimento são mais evidentes. O problema dos princípios não é de forma alguma um problema puramente lógico nem puramente epistemológico. O fato de que em todas as épocas tenha sido sobrecarregado com questões metafísicas não deixa dúvidas sobre isso”. [2] HARTMAN, Nicolai. Metafísica del Conocimiento: lo metafísico en el problema del conocimiento. Buenos Aires: Editorial Losada, 1957, p.47.
A partir daí, os escritores da futura filosofia romântica dos reinos alemães (idealismo alemão), aceitam que a matéria que nos chega são sensações e que é a razão do homem que as organiza. Se há discordância com Kant, não é uma discordância essencial, mas acidental. Cada um traz consigo novas formas de organização, sem se perguntar se essas formas de organização de fato existem ou são invenções. No livro “A Filosofia do Idealismo Alemão”, Nicolai Hartmann (1882-1950) [3]Nicolai Hartmann (1882-1950) foi, talvez, o primeiro realista crítico moderno. Autor de inúmeras obras, era apaixonado pelo real. Na sua Metafísica da consciência, Hartmann afirma que a … Continue reading apresenta uma série de escritores que interpretaram e tentaram corrigir e melhorar Kant, mas partindo todos eles sempre do mesmo princípio: o sujeito recebe apenas sensações como matéria e a razão as organiza em formas.
Hartmann anuncia cinco princípios em comuns que, em si, não foram colocados em dúvida:
I – Levar a cabo a teoria da forma e da matéria;
II – A tese da necessidade e incognoscibilidade da coisa-em-si;
III – A unidade de princípio básico como ponto de partida do sistema;
IV – O método da dedução como apresentação contínua de condições;
V – O condicionamento da capacidade teórica pela capacidade da prática.
1§ Coisa-em-si
Refutar a coisa-em-si, nos seus termos, é impossível pois, para que a coisa continuasse a ser “em-si”, ela precisaria mostrar ao sujeito tudo o que não é, pois tão logo ela mostre algo de como ela é ou quando o sujeito a percebesse, ela deixaria de ser “em-si” e passaria a ser coisa “para-outro”. Logo, neste sentido, seu conceito é extremamente verdadeiro de uma vez para sempre. Porém, não se vence uma batalha aceitando lutar com a espada dada pelo inimigo.
Se o sujeito só tem acesso sensível (experiência possível) ao fenômeno e nunca a coisa-em-si, para que ambos não sejam totalmente diferentes fazendo com que o fenômeno seja um sinal da existência da coisa [4]Kant discorda. Para ele, a separação é brutal e para sempre: “Essa perspectiva da nossa capacidade do conhecimento intitula-se sensibilidade e será sempre e totalmente distinta do conhecimento … Continue reading, é necessário que as formas puras de sensibilidade do homem estejam na própria constituição da coisa-em-si como uma possibilidade de atualização mediante representação, assim como tem de estar as possibilidades de atualização subjetivas (fenômeno) de como a lagartixa, a águia, o hipopótamo e a zebra apreendem a coisa-em-si, cada qual com suas formas próprias.
Ora, neste sentido, se o homem só tem acesso ao ser-em-si negativamente como pensável [5]“O conceito de um númeno é, pois, um conceito-limite para cercear a pretensão da sensibilidade e, portanto, para uso simplesmente negativo. Mas nem por isso é uma ficção arbitrária, pelo … Continue reading, “teremos que admitir os númenos neste sentido apenas negativo” [6] Ibid., pág. 316. , então essa possibilidade negativa também tem de estar na própria coisa, pois, se não estivesse, ela não poderia mostrar-se de forma alguma a nenhum outro ente e o homem não conheceria nem sequer o fenômeno. Mas, se faz parte da constituição ontológica da coisas os fenômenos mostrarem-se gnosiologicamente para o homem, então a constituição da coisa-em-si já não pode ser totalmente “em si”, pois faz parte da sua constituição ser algo para algum outro fenomenicamente e negativamente, o que já não é mais a definição de coisa-em-si, mas a definição clássica de coisa mesma.
Tradicionalmente, a coisa é ligada à noção de substância que contém um duplo padrão:
a) é algo para si por conta da sua essência própria (quididad/quid est res/māhiyya/τό τί ήν είναι);
b) é algo para algum outro conforme suas potências que tornam-se ato mediante às outras coisas, entidades e situações. Uma muda de planta jamais transmutaria-se de potência ao ato se o ambiente ao redor, com todo o seu ecossistema, não colaborasse: as outras plantas, os animais, o clima, o ph do solo, a temperatura, o ar atmosférico, etc. Neste sentido, a fusão lógica-ontológica entre a causa eficiente e a causa final é válida.
Este ecossistema é o que Nicolai Hartmann chamava de condição, ou seja, uma confluência exata entre todas as coisas, entidades e situações mediante a soma de necessidade e possibilidade que usem-se, justas, para o mesmo fato da qual uma é peça fundamental para a outra:
“A verdadeira natureza de algo, como um “ser” assim constituído, não é separável da totalidade de suas condições; é evidente que a ausência ou mesmo a menor alteração de uma condição significaria imediatamente uma mudança nele mesmo. Toda a realidade se constrói a partir de condições. Cada uma dessas condições é necessária para que a realidade exista. No entanto, por si só, cada condição representa apenas a possibilidade do condicionado, não sua realidade. Só se torna real quando todas as condições são cumpridas e agem juntas; nesse momento, o condicionado não é apenas possível, mas também necessário. Não pode mais ser evitado; é absolutamente exigido pela totalidade de suas condições. Esse encontro entre possibilidade e necessidade nas condições de uma construção concreta é precisamente o que constitui sua realidade”. [7]HARTMAN, Nicolai. Realidade Lógica e Realidade Ontológica [Logische und ontologische Wirklichkeit]. Tradução: Isaias Klipp. Proscênio filosófico, 29 Abr. 2023 [1915]. Disponível em: … Continue reading
Logo, uma coisa é, simultaneamente, coisa “para si” e “para algum outro”. Querer tirar uma dessas características é tirar a coroa da moeda ou o oxigênio da água. Uma outra característica da coisa é estar simultaneamente em todos os planos de realidade: no conhecimento, no pensado, na linguagem, no tempo, no espaço, no infinito e no atemporal. Um leão está em todos esses planos, enquanto a coisa-em-si só pode ser pensada negativamente e nunca conhecida, o que faz com que ela deixe de ser coisa e passe a ser um irreal pensável; mas, se ela é irreal, a existência do fenômenos estaria em risco, pois o fenômeno existe por conta da coisa.
Logo, o fenômeno, a forma como o sujeito apreende, é, no fim de tudo, apenas uma das potências da própria coisa. Ou seja, a consequência imediata a que esse enfoque conduz é dizer que, se o ser-em-si tem, no seu “x” oculto, as formas de representação subjetivas, o ser já não é “em-si” e nem “totalmente-para-outro”, mas um amálgama alquímico de ambos, assim como um ente concreto o é em relação ao singular e universal. A coisa é trans-objetiva e trans-subjetiva. É transcendentalmente ambos. Outra consequência imediata é que, se o ser é ambos, e se a relação está na forma de existência da coisa, o conhecer subjetivo é um momento (Seinsmomente) [8] MORA, José Ferrater. Dicionário de Filosofia: E-J. 2. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2001, vol. 2, p.1281. do ente objetivo.
Porém, se o ser-em-si está completamente vazio de subjetividade, mas absoluto em objetividade, nada, do que diz respeito ao fenômeno, pode ser representação. Representar é apresentar à consciência aquilo que já se apresentou por si só, por isso “re”presentação. O tempo ou o espaço, ou a causalidade ou qualquer coisa que seja a priori na consciência, não pode ter representação, mas sim, somente uma “presentação”. Dizer que um objeto é uma representação da consciência, quer dizer que este objeto tem de ter a capacidade de apresentar-se por si mesmo para que o homem possa representá-lo posteriormente. A confusão disto é uma má interpretação das categorias de Aristóteles. Hartmann as interpreta e as descreve como modos de ser (Seinsmodi) [9] Ibidem. dos entes: elas se encontram na percepção humana, pois seria muito estranho um ente ser espacial e o homem não o visse no espaço.
É impossível a água continuar sendo água se o oxigênio for arrancado dela. O fato de Kant, na Estética, não conseguir “se livrar” do espaço e do tempo, concluindo daí as formas a priori da sensibilidade, está totalmente correto. É impossível continuar tendo acesso sensível ao ente sem a percepção do espaço. Mas o motivo para isso é outro. Se o ente, em si, é espaçoso, o espaço, por isso, faz parte da percepção e não o contrário. Se tirar o espaço ontológico do ente, ele se desintegra e o sujeito já não apreende mais nada. Dizer o contrário seria supor que, quando o sujeito vê uma mesa, por não conseguir “não vê-la”, ela na verdade é um produto da percepção. É claro que a fórmula é inversa: a mesa, por existir independentemente do sujeito, não consegue deixar de se apresentar a ele.
Ela é uma presença, um agora que se impõe. O espaço, que está na substância, não consegue deixar de se “apresentar” ao homem e este, por conseguinte, não consegue se desvincular do espaço, agora “(re)presentado” (apresentado duas vezes) em sua percepção. Determinar, por este motivo, formas a priori, é inviável pois, uma vez o espaço podendo ser, simultaneamente, a priori e aspecto da própria realidade, a tentativa de se livrar dele terá sempre o mesmo correlato imaginativo, sempre impossível. Supondo, agora, que o espaço seja uma forma a priori, ainda assim, o argumento continua insustentável.
Nicolai Hartmann dizia que tempo-espaço não existe nem em si e nem como intuições a priori da sensibilidade:
“Esta forma distorcida de imaginar espaço e tempo vem única e exclusivamente do questionamento sobre sua existência, ou mesmo sobre a natureza especial da sua existência. Mas o espaço e o tempo não existem puro e simplesmente. Eles não podem ter existência alguma, porque têm um modo de ser totalmente diferente e não compatível ao de existir. E, desta maneira, significa estarem ligados ao que realmente existe. Neste sentido, não há, portanto, espaço vazio e nem tempo vazio. E, caso houvesse, não seriam nem espaço e nem tempo reais”. [10] HARTMAN, Nicolai. Ontologia: Filosofía de la naturaleza. Teoría especial de las categorías. México: Fondo de Cultura Economica, 1960, v.4 p.53.
Por conseguinte, tempo e espaço são formas de existência (existência aqui em sentido ontológico). O tempo-espaço, como forma de existência, reflete hierarquicamente essas existências. E essa hierarquia só faz sentido através dos graus de participação do inexistente ao existente. A tristeza não é espacial como o é um cachorro, portanto sua forma de existência é deficiente e parcial (o seu grau de hierarquia na participação do real é menor). As leis matemáticas não dependem do espaço e nem do tempo, logo seu grau de existência é menor ainda. Sem a percepção das formas deficientes de tempo e espaço, que refletem as formas deficientes de existências, o sujeito não perceberia as formas plenas de tempo e espaço que refletem uma existência plena.
Logo, o próprio contraste existente-inexistente deveria também ser uma forma a priori da sensibilidade, justamente para que o tempo e o espaço possam ser formas a priori da sensibilidade que, agora, já não são tão a priori assim, pois refletem a hierarquia e a participação das formas a priori da existência na sensibilidade. Mas seria impossível essas formas a priori do tempo e do espaço se não fossem também formas a priori dos próprios objetos em mostrarem-se, pois sendo formas subjetivas, refletem apenas a estrutura lógica do homem e não a estrutura material-individual dos milhões de entes individualizados que, caso já não tivessem, em si mesmos, teias de possibilidades e impossibilidades que determinam o ato do sujeito em determiná-los, o homem, por óbvio, não os determinaria.
References
| ↑1 | HARTMAN, Nicolai. A filosofia do idealismo alemão. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1983, p.16. |
|---|---|
| ↑2 | HARTMAN, Nicolai. Metafísica del Conocimiento: lo metafísico en el problema del conocimiento. Buenos Aires: Editorial Losada, 1957, p.47. |
| ↑3 | Nicolai Hartmann (1882-1950) foi, talvez, o primeiro realista crítico moderno. Autor de inúmeras obras, era apaixonado pelo real. Na sua Metafísica da consciência, Hartmann afirma que a consciência é metafísica. Sendo assim, todos os processos gnosiológicos devem serviços à luz da metafísica, sendo o primeiro a afirmar, antes de Olavo de Carvalho, a redução da gnosiologia à ontologia: “O conhecimento também é um modo de ser, pois a consciência é um existente e está inserida no espírito total do existente. Portanto, as condições do conhecimento devem ser incorporadas de alguma forma no sistema das condições do ser”. HARTMAN, Nicolai. Metafísica del… Op.cit – p.460. |
| ↑4 | Kant discorda. Para ele, a separação é brutal e para sempre: “Essa perspectiva da nossa capacidade do conhecimento intitula-se sensibilidade e será sempre e totalmente distinta do conhecimento em si mesmo, mesmo que se pudesse penetrar até o fundo do próprio fenômeno.[…] Desta forma, pela sensibilidade não conhecemos apenas desordenadamente as coisas em si, porque não as conhecemos mesmo de modo algum”. KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. 5. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 106. |
| ↑5 | “O conceito de um númeno é, pois, um conceito-limite para cercear a pretensão da sensibilidade e, portanto, para uso simplesmente negativo. Mas nem por isso é uma ficção arbitrária, pelo contrário, encadeia-se com a limitação da sensibilidade, sem todavia poder estabelecer algo de positivo fora do âmbito desta”. KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. 5. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, pág. 296. |
| ↑6 | Ibid., pág. 316. |
| ↑7 | HARTMAN, Nicolai. Realidade Lógica e Realidade Ontológica [Logische und ontologische Wirklichkeit]. Tradução: Isaias Klipp. Proscênio filosófico, 29 Abr. 2023 [1915]. Disponível em: https://prosceniofilosofico.com.br/2023/04/09/realidade-logica-realidade-ontologica-1915-nicolai-hartmann/. |
| ↑8 | MORA, José Ferrater. Dicionário de Filosofia: E-J. 2. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2001, vol. 2, p.1281. |
| ↑9 | Ibidem. |
| ↑10 | HARTMAN, Nicolai. Ontologia: Filosofía de la naturaleza. Teoría especial de las categorías. México: Fondo de Cultura Economica, 1960, v.4 p.53. |